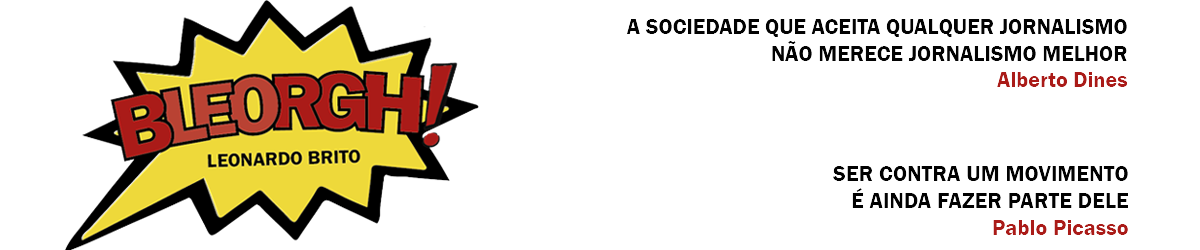A minha relação com a Medicina é próxima e anterior à minha existência. Começou num pequeno quarto de hotel em Jaraguá, Goiás, quando meu pai, recém transferido pelo governo federal de Manaus para atuar como médico do leprosário da cidade, convenceu minha mãe, que preferia ter uma residência fixa primeiro, a dar um irmão (ele) ou uma irmã (ela) para o único filho, nascido em Parnaíba, onde ficava o primeiro leprosário em que ele atuou, logo depois do casamento. Nos 08 meses de 1947 a partir daí, por injunções políticas à época – o que mostra que nada mudou politicamente neste país – meu pai foi transferido pra Campinas, então uma cidade, depois incorporada à Goiânia, pra Itumbiara e, finalmente, pra Bambuí, Minas, onde nasci… Ou seja, a gestação do novo rebento foi, praticamente, em hotéis e na estrada, e acompanhada por um médico particular, meu próprio pai.
A transferência pra Bambuí aconteceu em fins de dezembro, para a residência do diretor do leprosário, dentro dele – papai fora nomeado diretor da Colônia São Francisco de Assis (o nome leprosário é estigmatizado até hoje, tanto que não se fala lepra hoje, mas hanseníase). Eram tempos de chuva, a Colônia ficava afastada da cidade e a estrada de terra era quase intransitável, principalmente à noite. E as contrações de minha mãe começaram de madrugada. Nasci ao amanhecer, pelas mãos de meu pai. Que quis dar um descanso pra ela e me levou, com uma hora de nascido, pra varanda da casa, e me pôs, pelado, pra tomar o sol da manha. Passa um, passa outro, conversa vai, conversa vem, troquei de pele nas primeiras duas horas de vida…
Meu velho era um médico da velha guarda: dedicado, estudioso, consciente da fundamental necessidade de ler muito e atualizar-se constantemente na profissão. Especialista em otorrinolaringologia, mas sanitarista desde que passara no concurso do governo federal, clinicava no geral e, mesmo não sendo judeu, achava que a circuncisão era uma prevenção necessária para o futuro. Assim, com duas semanas de vida, providenciou, ele mesmo, minha primeira operação na vida, de fimose.
Ser filho de médico e de mulher de médico tem vantagens e desvantagens ao mesmo tempo. Por exemplo: você precisa estar doente de fato pra sua mãe chamar o médico, seu pai, e você frequenta hospitais raramente, na maioria das vezes como visitante e quase nunca como paciente. Ou seja, amanhã, aos 72 anos, vou me internar num hospital para uma operação pela primeira vez na vida. Neste tempo todo, além da circuncisão, feita em casa, só operei o olho esquerdo, de retina, cinco vezes, operações em clínica, sem anestesia geral, internação ou coisas tais.
A minha relação com a morte, por sua vez, é um pouco mais distante, e um tanto ou quanto rara.. Como meus pais rodaram pelo país e depois se fixaram em Belo Horizonte quando eu tinha 06 anos, minha ligação com as famílias paterna e materna eram anuais, nas férias apenas, significando isto que não convivi com a morte de avós e tias ou um ou outro primo ou prima com quem brincava nestas férias.
A primeira morte marcante na minha vida aconteceu há 28 anos, quando minha última filha, Jordana, morreu com 06 meses de vida (ver Deficiências, neste Bleorgh!). Além das culpas que carrego até hoje, ficou o travo amargo de perceber, em plena maturidade, que a vida é finita e a morte, inevitável, está à sua espera, numa noite bem dormida, numa esquina ou, o que a gente espera sempre, depois de viver todas as aventuras possíveis, quando o físico e a mente deixam de ser responsáveis e passam a depender dos outros. Para um agnóstico como eu, que recusa a existência da pós-morte ou a eternidade ao lado de Deus ou do Diabo, foi um choque.
Depois, veio a morte de meu pai, há 25 anos, e, há um ano, a morte de minha mãe. No caso dele, era uma morte anunciada: depois que perdeu as condições de clinicar, ler e jogar xadrez, ele desistiu de viver e só sobreviveu por mais um tempo por teimosia de minha mãe, que sentava junto de sua cadeira de rodas e ficava horas lendo livros ou contando as notícias do dia e o dia a dia dos filhos e netos.
Já a da minha mãe foi intensamente vivida por mim. Diagnosticada com um câncer pulmonar aos 96 anos, ela desistiu do tratamento depois de uma sessão de quimioterapia e de duas aplicações de radio-cirurgia, que estavam lhe fazendo mais mal que o câncer, e manteve sua vida lúcida e ativa com a certeza que estaria na festa de 100 anos que eu prometi fazer, com todos os filhos, netos e bisnetos presentes. O câncer não a afetou, mas um tombo, a quebra do fêmur e a imposição de permanecer imobilizada numa cama sim, e dois meses depois, por desistência da vida como meu pai, ela morreu. Nestes dois meses, nas longas conversas que tive com ela, a morte foi uma presença constante. Ela, que passara os últimos 24 anos contestando os dogmas divinos e duvidando da existência da vida pós morte, queria acreditar em alguma coisa pra ter certeza que a vida valera a pena e que reencontraria meu pai do outro lado (ver Sentido da Vida, neste Bleorgh!).
Pois depois de depois de amanhã, enfim, me defronto diretamente com a Medicina e com a morte. Um câncer intestinal diagnosticado num check up me indicou a necessidade de uma operação em plena pandemia do coronavírus, neste caos mitológico em que estamos. Já houve tempos em que eu tinha certeza dos dias seguintes. Hoje ainda tenho do hoje, quando ficarei acordado até o dia amanhecer, e também do amanhã, de sala em sala do hospital fazendo os preparativos, e ainda do depois de amanhã, anestesiado numa sala de operações. A operação em si não me preocupa: quem trocou a pele duas horas depois de nascido e foi circuncidado com duas semanas de vida, não se assusta com uma vídeo-laparoscopia. O que me preocupa, neste domingo friorento, sentado na varanda enquanto a noite desce atrás das árvores da minha chácara, é o que será depois do depois de amanhã…