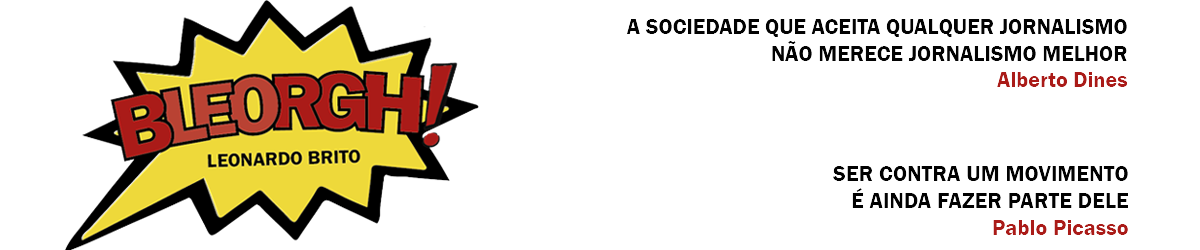Confesso que eu estou cansado. Hoje, dia 10/10, faço 70 anos e 09 meses, o que significa que eu brigo pelo país há exatos 55 anos… Foi exatamente num dia 10 de outubro de 1963 que eu cometi meu primeiro ato público de rebeldia política… Foi neste dia que eu, Renilda e Dorinha, com brochas e baldes com cal branca, pintamos os muros da casa do jornalista e escritor Alberto Deodato, um udenista que pedia a cabeça do presidente João Goulart, de ‘Golpe Não Fora Fascis____’ Não deu para terminar o Fascista! porque uma rádio patrulha estava chegando e a gente teve que sair correndo, espalhando cal para tudo quanto era lado!

Eu me lembro bem do dia porque no dia anterior, um domingo, tinha sido a festa de aniversário de Dorinha, que eu estava querendo namorar, apesar de ser muito tímido para me declarar… Ela era um ano mais velha que eu e filha de um professor de História do Colégio Estadual e fazia parte de um grupo de alunos do Colégio que viviam discutindo política no Diretório Estudantil, que eu comecei a frequentar por influência do Scott, colega de turma que queria ser frei, mas depois virou ‘terrorista’, foi preso, torturado e morto por policiais do DOI-CODI de São Paulo. (Aviso importante: quem não tem estômago forte, não assista o vídeo a seguir)
Eu não tinha vocação para este tipo de ‘ação clandestina’… sempre detestei qualquer perspectiva de violência, de enfrentamento físico, preferia escrever editoriais e conclamações à luta no jornalzinho do DE, mas demonstrar coragem cívica acompanhando a Dorinha em uma de suas ações preferidas, era uma possibilidade de ela perceber minha existência…
Em 1963, de qualquer modo, a ditadura ainda não tinha sido instalada, uma democracia tumultuada ainda persistia e, por isso, os policiais não perseguiam aquela “molecada” rebelde que sujava a cidade com seus xingamentos e insultos mal educados. Só ameaçava… e a gente se sentia feliz por estar lutando por algumas coisas pelas quais valia a pena lutar, a liberdade, o direito de se manifestar, a possibilidade de termos um país mais justo…
Durou pouco. Em abril do ano seguinte, Jango foi derrubado e os militares assumiram o poder! Aos poucos, a luta se tornou mais apaixonada, mais violenta e muito mais perigosa. Havia protestos, havia passeatas… e havia repressão da Polícia Militar! Aos poucos, à medida que a ditadura ocupava os espaços, as pequenas janelas mantidas abertas para a democracia iam sendo fechadas, os gritos de liberdade iam sendo sufocados. Nosso Diretório Estudantil foi fechado, o pai de Dorinha foi preso ‘para averiguações’, Dorinha saiu do colégio (muitos anos depois, fiquei sabendo que ela entrara para a luta armada e, com o marido, também guerrilheiro, conseguira fugir para o Chile, e de lá para a Espanha, de onde não voltara mais).
Neste início, passei pela humilhação de ser ‘apreendido’ pelo DOPS mineiro (já contei esta história aqui) e me afastei, provavelmente por medo, da luta mais direta, de enfrentamento. Assumi definitivamente minha posição anti violência e carimbei minha carteirinha de peça importante, mas auxiliar de movimentos contra a ditadura, no Colégio Estadual da Serra e, depois, no Curso de Jornalismo, escrevendo, clandestinamente, notícias, cartas abertas, editoriais de jornais proibidos e panfletos distribuídos em pontos de ônibus, entradas de estádios, portas de cinemas…
De peito aberto, apenas mais um ato público de resistência: eu era presidente interino do Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. O presidente, Idalísio Aranha, tinha desaparecido (na verdade, ele fora lutar na guerrilha do Araguaia, onde foi morto; seu corpo, aliás, não apareceu até hoje). Nós havíamos conseguido reabrir o DA, recuperando inclusive o piano que fora confiscado pelos policiais quando ele foi fechado, e promovemos uma festa em comemoração, convidando, inclusive, o diretor da Faculdade, que era um partidário da ditadura. Durante a festa, subi numa mesa e fiz um discurso em homenagem a Edson Luiz, um estudante paraense que fora morto um ano antes no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro.

Foi uma luta inglória! Em 1972 saí da faculdade já casado e fui lutar pela vida. Durante algum tempo trabalhei numa editora/gráfica e pude continuar minha catequese política – os gráficos são, tradicionalmente, uma classe accessível à rebeldia: trabalhavam muito, sem horário definido, ganhavam pouco e tinham acesso ao básico da politização, folhetos, livros políticos e que tais.
Nesta linha, consegui convencer o dono da editora/gráfica a produzir uma revista, Bandeira Livre, diretamente dirigida aos motoristas de taxi, outra classe accessível à catequese política. Lançamos o primeiro número, o segundo e, sem mais nem menos, o dono mandou suspender a publicação, sob a alegação de que estava dando “prejuízo insuportável”. Não estava, tenho certeza (o primeiro número teve 500 exemplares, o segundo, 1.500), mas a ditadura era atenta e forte e não admitia janelas abertas, por frestas que fossem, para a livre manifestação de pensamento…

Outra janela fechada… Aí recebi o convite para trabalhar em Brasília… em uma estatal de um governo ditatorial, Geisel. E aceitei! Estava de saco cheio de brigar contra moinhos de vento! Isto foi em 1975… e a ditadura perdurou até 1985! Tive a sorte de estar subordinado a um presidente jovem, indicado politicamente por um cacique político, Ney Braga, do Paraná, mas que tinha uma visão técnica e apolítica da sua função.
Uma nova janela se abriu e, agora, bem mais ampla, o Brasil. Alguém que nunca tinha viajado de avião passou a cruzar os céus da pátria imensa, conhecendo um povo que só conhecia de livros: do gaúcho do Pampas ao ribeirinho dos igarapés do Amazonas, do pau rolado goiano ao cabra da peste potiguar. Irmãos sofridos que gostavam de contar suas histórias de vida e ouvir minha prosa de ‘doutor’… (continua)