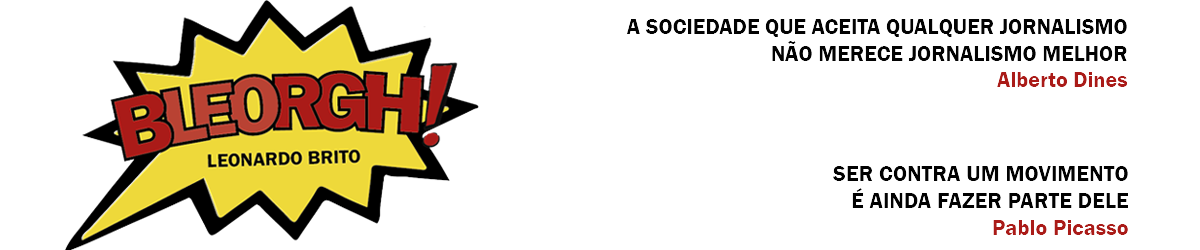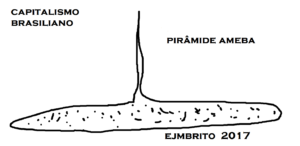 Eu vivi em Belo Horizonte dos 06 aos 27 anos, indo para lá em 1954. Depois de um tempo morando num hotel na rua dos Caetés, pouco acima da praça da Estação, a gente se mudou definitivamente para um apartamento do Edifício Mantiqueira, comprado por meu pai, ali pertinho, na rua dos Tupinambás, esquina com a da Bahia. Era uma rua de paralelepípedos, com árvores nas laterais, e o nosso foi o primeiro prédio do quarteirão, onde só havia casas e algum comércio na outra esquina, na verdade um cruzamento com a rua do Espírito Santo e o início da avenida Amazonas (que saia, exatamente, da praça da Estação).
Eu vivi em Belo Horizonte dos 06 aos 27 anos, indo para lá em 1954. Depois de um tempo morando num hotel na rua dos Caetés, pouco acima da praça da Estação, a gente se mudou definitivamente para um apartamento do Edifício Mantiqueira, comprado por meu pai, ali pertinho, na rua dos Tupinambás, esquina com a da Bahia. Era uma rua de paralelepípedos, com árvores nas laterais, e o nosso foi o primeiro prédio do quarteirão, onde só havia casas e algum comércio na outra esquina, na verdade um cruzamento com a rua do Espírito Santo e o início da avenida Amazonas (que saia, exatamente, da praça da Estação).

Este pedaço de rua, aliado ao pedaço de baixo, entre a rua da Bahia e a avenida dos Andradas, que margeava o ribeirão Arrudas, ainda a céu aberto, bem como o Parque Municipal, que ficava a três quarteirões de casa, foram o meu chão durante toda a infância e a juventude.

O Mantiqueira era recém-construído e, incorporado, atraíra muitos casais de classe média e na mesma faixa de idade de meus pais com, naturalmente, filhos e filhas (muito poucas, infelizmente) regulando comigo e meu irmão. Em breve, formou-se uma turma que brincava de pega-bandeira, pique-esconde, bandido e mocinho, aproveitando as árvores da rua, ou jogando pelada e bente-altas* na parte da rua depois da Bahia, que era reta (a Tupinambás era inclinada).

Num terreno baldio em frente ao prédio, jogávamos finca, bolinha de gude e, às vezes, empinávamos papagaios. Um pouco mais crescidos, incorporamos outras brincadeiras, como o futebol de salão, a patinação, a corrida de barco e a exploração de lugares novos e a guerra de mamonas no Parque Municipal.

Olhando de hoje, é incrível imaginar que nossos pais não se preocupavam que garotos de 11, 12 anos ficassem correndo pela rua ou se dirigissem, sozinhos, lá para o parque, longe das vistas, atravessando ruas e uma avenida e ficando sumidos por duas a três horas. Incrível, mas o fato é que não havia qualquer perigo!
Belo Horizonte já era uma cidade grande e a gente vivia em pleno centro, a dois quarteirões da Praça Sete. Morávamos no nono andar e, do janelão do meu quarto, eu acompanhei o crescimento desordenado desta capital que, como Brasília, fora planejada como tal, com duas grandes avenidas formando um eixo central em que se cruzavam outras ruas e avenidas demarcando quarteirões de 100 x 100 m².

Também como Brasília, planejar é uma coisa, viver é outra bem diferente… O perímetro central terminava numa outra grande avenida, do Contorno… e nela acabou o planejamento: sem qualquer controle, a cidade se expandiu montanhas e vales além, uma infinidade de casas e arranha-céus e comércios e indústrias pequenas, médias e grandes, que atraíam cada vez mais gente à procura de melhores oportunidades de vida.

E o belo horizonte sumiu atrás dos prédios comerciais e residenciais que cresciam por toda a parte… Do janelão do meu apartamento de um edifício imponente e único, de onde eu via a Praça Sete, a rua da Bahia até a avenida Afonso Pena, o Parque Municipal, passei a ver paredes cinzas… meu edifício Mantiqueira, único em seus 12 andares quando me mudei para lá, tornou-se um anão frente ao edifício Codó, ao edifício Príncipe de Gales, ao edifício Aurora, um quarteirão distante… E o Parque Municipal e a Praça Sete sumiram do janelão do meu velho quarto…

Já fixado em Brasília, me assustava com a transformação da Belo Horizonte de minha infância/juventude, quando visitava meus pais ou passava por lá, a caminho da praia. Ônibus barulhentos e enfumaçados desciam a rua dos Tupinambás, asfaltada e sem árvores, inviabilizando-a de qualquer brincadeira infantil… e crianças miseráveis, sem lar e sem qualquer perspectiva de vida, enxameavam pela rua, pedindo esmola, assaltando ou, simplesmente, dormindo na escadaria do edifício Príncipe de Gales, um prédio comercial construído onde eu, um dia, jogara finca e bolinha de gude.

A rua da Bahia, onde ficava o buteco em que bebi minhas primeiras cervejas e em que comprei meus primeiros maços de cigarro Continental sem filtro, virou uma feira a céu aberto: lojas de um lado da calçada e bancas de camelôs e carrinhos do outro, deixando um longo e fino corredor para a gente passar no meio, ouvindo os gritos de “olha a laranja madura, freguês…”, “entre aqui, meu senhor, e conheça a nova coleção de sandálias para o verão…”, “o melhor cachorro quente da rua está aqui!”, “óculos ray-ban importados da Itália bem baratos, senhor…!”

Óbvio que isto existia em toda e qualquer capital brasileira. Camelôs (ou ‘empreendedores’) tornaram-se parte da paisagem urbana, tanto que um governador de Brasília abriu um espaço próprio para onde transferiu os camelôs do centro da cidade, a Feira dos Importados, mais conhecida por Feira do Paraguai, vez que a maioria dos produtos vendidos era (ainda é?) trazida diretamente de cidades fronteiriças daquele país, para onde seguiam caravanas de ônibus semanalmente. A Feira, oficialmente legalizada, está lá até hoje, assim como os camelôs, que continuam ocupando praças e esquinas de Brasília, numa prova incontestável que o empreendedorismo brasileiro é inigualável, como mostra o vídeo abaixo.
Ele foi divulgado, há algum tempo, pelo site Conversa Afiada, do jornalista Paulo Henrique Amorim, e mostra o verdadeiro capitalismo brasileiro: gente do povo que, desempregada e sem qualquer chance de se empregar nas cada vez mais restritivas vagas do mercado, batalha o pão nosso de cada dia, disputando um espaço nas rodovias e avenidas das grandes cidades e a atenção da classe média motorizada, ainda gozando de sua empregabilidade, mesmo que com riscos cada vez maiores de se tornarem, também, capitalistas do asfalto.

P.S.: (para quem não foi jovem em Minas): Bente-altas – conforme a Wikipédia – é um antigo jogo de rua, hoje raro, mas muito popular em toda Minas Gerais até pouco tempo. Tem regras muito simples e utiliza materiais rústicos: dois conjuntos de três gravetos que, unidos em forma de pirâmide, formam as casinhas; dois pedaços achatados de lata, formando as bases, ou pás; e uma bola de pano, do tamanho de uma laranja média, usualmente feita a partir de meias velhas, a bola de meia. A dupla que derrubar mais vezes a casinha da dupla adversária (os jogadores determinam se 03 ou 05 vezes ou por um tempo), ganha a partida.