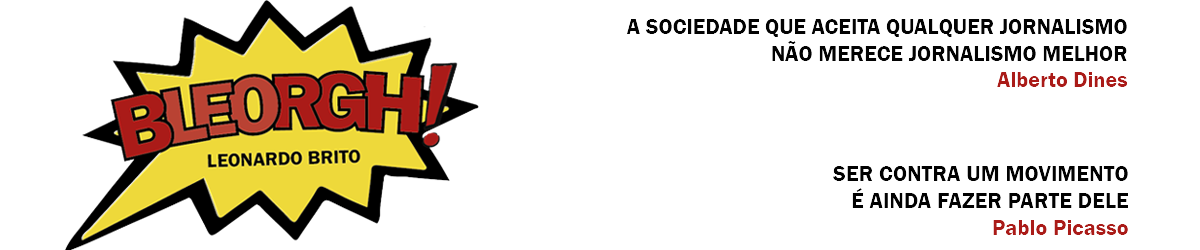Eu passei boa parte da minha infância e pré-adolescência com medo de ser covarde. Explico: na avaliação de minha mãe, sempre cheia de dedos quando se trata de sentimentos, eu era “um bebê calmo, que nunca reclamava, chorava muito pouco, não dava nenhum trabalho”, o oposto do primeiro filho, quatro anos mais velho, que sempre fora vivo, rebelde, brigão, “um capeta”, como costumavam dizer então.

Eu gosto de brincar com ela hoje que, na minha avaliação, eu tenho certeza que até os dois anos, eles, meus pais, achavam que eu era ‘retardado’(a comparação com a vitalidade de meu irmão era inevitável!): foi por aí que eu comecei a falar, a andar sem precisar de ninguém por perto, ou seja, a me aventurar com uma certa independência… na verdade, a perceber o mundo que existia fora dos braços protetores de minha mãe e além do berço onde costumava ficar numa boa (imagino…) nas horas em que minha mãe cumpria suas atividades domésticas.
Esta brincadeira minha é reforçada por algumas histórias de família, recontadas hoje com graça e certa aura de lembranças felizes. Conto duas:
– uma, relativa ao meu nascimento, ocorrido às 05 horas da manhã na casa do diretor do Leprosário de Bambuí, pelas mãos do diretor, que era meu pai. O leprosário ficava distante da cidade e não deu tempo de minha mãe ser levada para o hospital… Ou seja, meu pai fez o parto. Feitos os procedimentos normais, o dia já amanhecido, meu pai me pegou dos braços de minha mãe e, para deixa-la descansar, me levou para tomar um pouco do sol da manhã. Em seu mundo, o diretor de um leprosário é um rei e todo mundo que passa por ele, tem que parar e dar um dedo de prosa… Enfim: com duas horas de nascido, eu troquei a pele! E não chorei um segundo sequer, para lembrar meu pai que eu estava ali…

 – outra, relativa à vida no berço: eu ainda ‘morava’ nele quando meu irmão (com quatro anos!) acendeu um fósforo e me mandou segurar… Eu fiquei segurando e namorando a chama até ela alcançar meus dedos e queimar, quando, enfim, dei um grito, o que fez minha mãe vir ver o que estava acontecendo…
– outra, relativa à vida no berço: eu ainda ‘morava’ nele quando meu irmão (com quatro anos!) acendeu um fósforo e me mandou segurar… Eu fiquei segurando e namorando a chama até ela alcançar meus dedos e queimar, quando, enfim, dei um grito, o que fez minha mãe vir ver o que estava acontecendo…
Neste contexto, a partir dos dois anos, eu me tornei uma criança ‘normal’, apesar da timidez. Continuei calmo (ou lerdo, como sussurravam alguns), pouco afeito aos atos típicos dos meninos de então, continuei vivendo meu mundo particular inteiramente solitário (eu adorava construir estradas de cinza no quintal da minha casa e viajar por elas com meus carrinhos de brinquedo), sem ninguém por perto, vez que costumavam atrapalhar meus sonhos…

Ou seja, não tenho histórias rocambolescas a serem “orgulhosamente” relembradas pelos mais velhos hoje.
 Afinal, eu nunca fui um ‘macho’, na acepção que esta palavra tinha nas décadas de 50/60. A única briga individual em que me envolvi foi com João Antônio, filho da dona do hotel que ficava na esquina das ruas da Bahia com dos Tupinambás, que era da minha turma do Mantiqueira, o edifício em que eu morava. Motivo da briga? Ele me chamou de Terezinha, um apelido que meu irmão costumava me chamar, e com quem eu não podia brigar, porque era mais velho e quatro anos mais forte que eu e porque meus pais não admitiriam nunca! (Sem querer me gabar: eu ganhei a briga… ele ficou mais machucado que eu!)
Afinal, eu nunca fui um ‘macho’, na acepção que esta palavra tinha nas décadas de 50/60. A única briga individual em que me envolvi foi com João Antônio, filho da dona do hotel que ficava na esquina das ruas da Bahia com dos Tupinambás, que era da minha turma do Mantiqueira, o edifício em que eu morava. Motivo da briga? Ele me chamou de Terezinha, um apelido que meu irmão costumava me chamar, e com quem eu não podia brigar, porque era mais velho e quatro anos mais forte que eu e porque meus pais não admitiriam nunca! (Sem querer me gabar: eu ganhei a briga… ele ficou mais machucado que eu!)
Na adolescência descobri meu mundo real, os livros… E me tornei, na turma de jovens naturalmente machistas em que vivia, o personagem criado por Jorge Amado em Capitães da Areia: eu não tinha nada a ver com Pedro Bala, o chefe, e tudo a ver com Professor, inclusive os óculos redondos, que, com imensa alegria e orgulho (e míope), comecei a usar aos 11 anos.

Como tal, o garoto que dava conselhos, o amigo que sabia escutar os problemas de casa, o ombro onde se podia chorar pelo fora da namorada, eu prescindi da coragem de ser guerreiro e, mesmo abominando qualquer tipo de violência, participei de uma ou outra briga de turmas, algo comum naquela época: a turma da Floresta, a turma da Lagoinha, a turma do Calafate… e, no nosso caso, que morávamos no centro de Belo Horizonte, a turma do Edifício San Remo.
O San Remo ficava na rua da Bahia, a uns 06 ou 07 quarteirões do edifício Mantiqueira. E tinha uma turma brava, que gostava de sair pelas ruas nos finais de semana, desafiando as das outras ruas – queriam ser os “reis do Centro” e não mediam suas ações: usavam soco inglês, bolinha de gude, cabo de aço e que tais… Minha turma era pacífica e não aceitava os desafios e, logo que ficava sabendo que ‘o San Remo estava descendo’, simplesmente se desfazia, cada um indo para sua casa. Medo? Covardia?

Como ‘professor’ da turma, eu incentivava a debandada e a justificava como um ato inteligente e responsável: nós não éramos páreos para o San Remo, nós não tínhamos soco inglês, nós não sabíamos usar cabo de aço nem transformar bolinhas de gude em armas de guerra, nós tínhamos muito menos garotos que a turma deles e nós não tínhamos qualquer intenção de ser “os donos do Centro”… Para que apanhar, então? Mas, nem sempre dava para debandar…!
Nesta época, eu já havia perdido o medo de ser covarde. E por uma razão que nada teve a ver com força bruta ou macheza… mas com a convicção de que haviam cometido uma injustiça comigo. Eu tinha feito provas para entrar no Colégio Estadual e tinha certeza que fora bem e passara (naquela época, havia uma espécie de vestibular para entrar nos dois colégios públicos considerados os melhores do Estado, o Estadual e o Militar). Quando afixaram os resultados das provas na secretaria do Colégio, lá fui eu confirmar minha certeza. E meu nome não constava da lista! Invadi a Secretaria na hora e enfrentei dona Maria Pongelupi, a toda poderosa Secretária-Chefe do Colégio Estadual, chamando-a de incompetente, falsificadora, imbecil e outros palavrões menos delicados. Fui levado à força para fora da Secretaria, com a recomendação de trazer meus pais no dia seguinte perante a Secretária-Chefe.

Meus pais foram. Meu pai não costumava participar destas funções familiares, mas foi com minha mãe – fiquei sabendo muitos anos depois que a toda poderosa Maria Pongelupi havia ligado para minha casa e pedido, encarecidamente, que os pais estivessem presentes, o que preocupou meu pai, que, após ouvir meu relato sobre o incidente, acreditou que eu estava certo, o que não justificava os palavrões que eu havia lançado contra a toda poderosa.
Em lá chegando, a surpresa: todo o pessoal da Secretaria, Maria Pongelupi à frente, bateu palmas para o garoto enfezado que invadira o recinto aos berros… e tinha razão! Eu havia passado em segundo lugar entre todos os candidatos e meu nome tinha sido engolido na lista afixada na parede!
Ou seja: eu estava sendo aplaudido porque enfrentara “o sistema”, porque não aceitara uma “decisão superior…”, porque acreditara em mim… Isto é, não fora covarde e recolhera o rabo entre as pernas…! E também, claro, porque a toda poderosa Maria Pongelupi estava “cagando” de medo de meus pais processarem o colégio pelo erro absurdo cometido.
Neste dia percebi que fugir de discussões estéreis, brigas de rua, guerras, quando você tem certeza que tais coisas não levam a nada, apenas a ódio e morte, não é covardia. Ter medo é inerente ao ser humano. Minha mãe morou anos num apartamento do 3º andar de um prédio e toda noite olhava embaixo da cama para verificar se não tinha um ladrão escondido. Já covardia tem muito mais a ver com falta de caráter.
Como no caso do jornalista Mário Vitor Rodrigues, colunista da revista semanal ISTOÉ, que escreveu esta sandice, sob o título de “Lula deve morrer”: “Pelo bem do País, Lula deve morrer. Eis uma verdade incontestável. Digo, se Luiz Inácio ainda é encarado por boa parte da sociedade como o prócer a ser seguido, se continua sendo capaz de liderar pesquisas e inspirar militantes Brasil afora, então Lula precisa morrer.”

Aí está a covardia em sua essência: o cara acha que a única forma de se livrar de alguém que o incomoda é mata-lo mas, como não tem coragem de fazer isto ele próprio, incentiva outros a fazê-lo. No clima de ódio em que vive o Brasil hoje, é bem capaz de aparecer um fanático bolsonarista que leu a coluna e, achando que tem o aval para fazê-lo, atente contra a vida do ex-presidente… E, se isto acontecer, o covarde colunista dirá que nada teve a ver com o fato, ele queria matar o mito Lula, não o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva. E continuará escrevendo suas colunas semanalmente, como um bom cidadão que goza do privilégio de viver num país onde a imprensa é livre… e desregulamentada. E pode tudo!