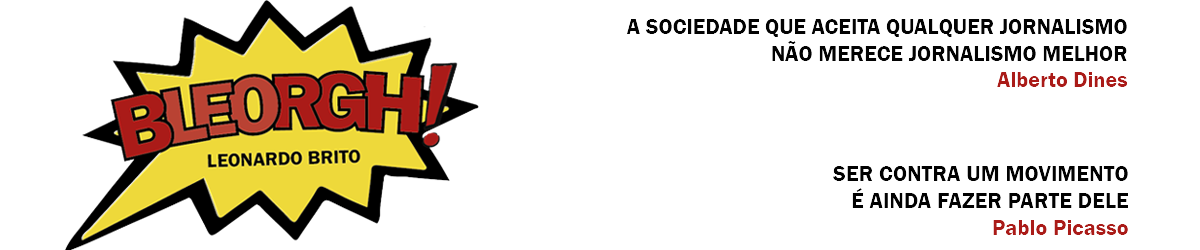Eu tive um professor de história no ginásio que fez fama entre seus alunos por duas razões, independentemente de ser o bom professor que era, e que saia daquele padrão ‘fato-data’ que abordei em outro post. A primeira razão era sua mania de subir a rampa do Colégio Estadual, do pátio para sua sala de aula, chutando e derrubando as pastas que os alunos encostavam nos vãos da rampa; a segunda era começar cada novo capítulo da história perguntando: “Quem mente mais: os políticos ou os jornalistas?” E ele mesmo respondia: “Entre os dois, acho que são os historiadores!” A partir daí, desenvolvia sua aula, mostrando o que diziam os livros de história e o que teria acontecido de fato, repetindo sempre: “Nunca se esqueçam que a história é escrita pelos vencedores…”


Lembrei-me dele (esta é uma das vantagens do avanço da idade: à medida que a gente adentra a velhice, nossa memória se rejuvenesce e passamos a nos lembrar, com nitidez, de fatos esquecidos da infância e adolescência)… me lembrei dele, particularmente, de três aulas dele, quando minha filha mais velha passou por aqui, semana atrasada.

Minha primeira filha e meu primeiro neto, que moram nos Estados Unidos, vieram conhecer indígenas legítimos aqui no Brasil – os indígenas originais americanos, tão menosprezados nos filmes de bang-bang da minha adolescência, hoje são donos de cassinos, alguns até apresentados, nos filmes atuais, como gangsters (ou seja, tantos anos passados, o preconceito não mudou muito… aqui e acolá!)
Na vinda passaram por aqui, para verem a mim e a (bis)avó, que não está muito bem de saúde. Na volta, por causa do horário, não os vi e, por isso, não falei com meu neto sobre o que achou de nossos indígenas. Queria saber, porque eu tenho uma visão um pouco dúbia deles: ao mesmo tempo que acredito nas convicções pró-indigenistas de pessoas e entidades culturais e ambientalistas, tenho experiências pessoais que me levaram a desconfiar de algumas posturas, aceitando opiniões contrárias, que carimbam muitos representantes de nações indígenas como meros impostores e aproveitadores, que pouco se lixam para suas origens e culturas, interessados que estão, como tantos e tantos brancos, apenas em se locupletar.
 Nesta dubiedade, há pesos e contrapesos a equilibrar a balança da minha crença (incluindo as três aulas do professor que citei):
Nesta dubiedade, há pesos e contrapesos a equilibrar a balança da minha crença (incluindo as três aulas do professor que citei):
– do lado positivo, lembro que os paraninfos da minha formatura em Comunicação – Jornalismo, no longínquo ano de 1972, foram os irmãos Vilasboas, representados, na solenidade, pelo Orlando. Ele chegou a Belo Horizonte na noite anterior e ficou hospedado no apartamento do Silvestre Gorgulho, o membro da Comissão de Formatura que tomara as providências para aprovar seus nomes junto à direção da Faculdade, contatá-los e convidá-los (há uma boa história para esta história, mas fica para outro post); nesta noite, alguns membros da Comissão, eu inclusive, tiveram oportunidade de conversar madrugada adentro com um indigenista prático, um homem que passara a maior parte de sua vida em convivência franca e aberta com os índios… Numa noite/madrugada, eu aprendi mais de convivência/tolerância/respeito humanos que em 10 anos de leituras na substanciosa biblioteca de meu pai. 
– ainda do lado positivo, tenho a leitura de livros e a presença em algumas palestras de Darcy Ribeiro, o antropólogo que participou diretamente da criação da UnB, bem como do Memorial da América Latina, autor de ensaios etnológicos e antropológicos e romances básicos para a compreensão da formação do povo brasileiro, como Culturas e línguas indígenas do Brasil, O Povo Brasileiro e Maíra. 
– do lado negativo, nas inúmeras viagens a serviço que fiz Brasil adentro, fotografando, filmando e divulgando os trabalhos prestados pela empresa estatal em que trabalhava, tive oportunidade de encontrar vários índios, no Mato Grosso, no Acre, no Amazonas, no Tocantins, no Maranhão… e em Brasília, onde, além do famoso Juruna, deputado federal que conheci portando seu gravador na Câmara, pude conversar com muitos índios trazidos pela Funai para receber tratamento médico. 
Excetuando Juruna que, apesar do folclore criado em torno de sua figura e seu gravador, tornou-se um personagem importante para a afirmação dos índios brasileiros (assim como Raoni e Marcos Terena), todos os demais foram decepcionantes (bêbados, pedintes, falsos, tentando arrancar algum dinheiro ou favor. 
Teve um, em Barra do Corda, no Maranhão, que oferecia uma excursão exclusiva até a aldeia, onde “o branco bonito poderia deitar com muitas indias, sem qualquer problema porque todas eram filhas dele”. E teve outros, vestidos a rigor – tanga, penacho na cabeça, pintura de guerra, arco, flecha e tacape – parando nosso carro na Cuiabá/Porto Velho, para exigir pedágio). 
Sem querer me aprofundar agora nos motivos que levaram a uma aculturação tão brutal destes indígenas, o fato é que a imagem desta decepção se fixou em minha mente. Aí, escrevendo posts anteriores (Eu cansei…), fui pesquisar as revoltas populares no Brasil e me deparei com as várias guerras empreendidas por nossas nações indígenas contra o opressor branco. E fiquei pasmo! 
 A história que me ensinaram e na qual eu tentei ir mais fundo (e, óbvio, não fui tanto assim), mostrava os índios como caças preferenciais dos portugueses e dos bandeirantes, à procura de mão de obra escrava pelo interiorzão, ou figuras incultas e passivas, pacificamente doutrinadas por jesuítas ou outras ordens religiosas.
A história que me ensinaram e na qual eu tentei ir mais fundo (e, óbvio, não fui tanto assim), mostrava os índios como caças preferenciais dos portugueses e dos bandeirantes, à procura de mão de obra escrava pelo interiorzão, ou figuras incultas e passivas, pacificamente doutrinadas por jesuítas ou outras ordens religiosas. 
Ou, então, como figurantes de uma história maior, as guerras entre brancos e brancos pela colonização do Brasil, como é o caso de Poty, o índio potiguar, batizado Felipe Camarão, que chefiou seu povo em batalhas para expulsar os holandeses (sua mulher, Clara, participava das batalhas junto com ele , mas dificilmente ela é citada como heroína da pátria); ou como Araribóia, o índio termiminó, da nação tupi, que ajudou os portugueses a expulsar os franceses da baia de Guanabara e, depois, fundou Niterói. 
 Já de Sepé Tiaraju duvido que alguém tenha ouvido falar… (talvez, muito de leve, quem assistiu o filme A Missâo, com Robert de Niro, tenha conhecimento disto, mas achando que a ação não tenha nada a ver com o Brasil). Chefe guarani, ele foi um dos heróis da chamada Guerra Guaranítica, após o Tratado de Madrid, em 1750. A região dos Sete Povos das Missões (no Rio Grande do Sul, hoje), habitada pelos guaranis, “catequizados” pelos jesuítas, pelo Tratado, passou ao domínio português, que permitia a escravização de índios, enquanto os espanhóis não.
Já de Sepé Tiaraju duvido que alguém tenha ouvido falar… (talvez, muito de leve, quem assistiu o filme A Missâo, com Robert de Niro, tenha conhecimento disto, mas achando que a ação não tenha nada a ver com o Brasil). Chefe guarani, ele foi um dos heróis da chamada Guerra Guaranítica, após o Tratado de Madrid, em 1750. A região dos Sete Povos das Missões (no Rio Grande do Sul, hoje), habitada pelos guaranis, “catequizados” pelos jesuítas, pelo Tratado, passou ao domínio português, que permitia a escravização de índios, enquanto os espanhóis não. 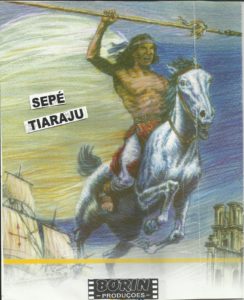 Também de acordo com o Tratado, os povos dali tinham que se mudar para o outro lado do rio, o Uruguai. Eles não quiseram sair de suas terras e Sepé Tiaraju entrou em guerra contra portugueses e espanhóis, ao mesmo tempo. Três anos de guerra (flechas contra arcabuzes) com o desfecho esperado: um massacre em 1756, com mais de 1.500 indígenas mortos, inclusive Sepé Tiaraju.
Também de acordo com o Tratado, os povos dali tinham que se mudar para o outro lado do rio, o Uruguai. Eles não quiseram sair de suas terras e Sepé Tiaraju entrou em guerra contra portugueses e espanhóis, ao mesmo tempo. Três anos de guerra (flechas contra arcabuzes) com o desfecho esperado: um massacre em 1756, com mais de 1.500 indígenas mortos, inclusive Sepé Tiaraju. 
Noutro extremo, o Amazonas, outro nome quase desconhecido: Ajuricaba. Chefe dos manaus, ele se revoltou contra as expedições portuguesas que subiam o Rio Negro, suas terras, em busca do Eldorado. Armou uma frota de barcos, aliou-se aos holandeses e passou a atacar estas expedições, aprisionando outros indígenas, aliados ou escravos dos portugueses, numa guerra que durou 05 anos, e terminou com sua prisão e possível suicídio (mergulhou no Amazonas quando estava sendo levado para Belém).
E ainda houve as guerras dos Aimorés, dos Potiguares, dos Muras e a Confederação dos Tamoios e dos Cariris, e a Resistência dos Guaicurus… Assim como houve o Quilombo dos Palmares, uma história mais conhecida porque resgatada pelos negros de hoje, que buscam, enfim, sua afirmação como cidadãos iguais aos brancos que povoaram, miscigenaram e amorenaram este país chamado Brasil. 
Mas não houve só Palmares – na verdade uma ‘nação’ encravada em terras de Pernambuco e Alagoas, e que chegou a ter 20.000 habitantes e levou um século para ser derrotada. Houve a Revolta dos Malês, que reuniu uns 600 negros islâmicos que tentaram tomar Salvador no Ramadã de 1835, enfrentando uma força armada muito mais poderosa. E houve a Revolta do Cosme, durante a Balaiada: mais de 2.000 negros se juntaram a Cosme das Chagas, um filho de escravo, alforriado, numa tentativa de libertar os escravos e dar direitos a camponeses e vaqueiros pobres no Maranhão dos anos 40 do século XIX (não confundam… Sarney ainda não tinha nascido!). E houve o Quilombo de Catucá/Malunguinho, nos arredores de Recife. E as revoltas de Carrancas, em Minas Gerais, e de Manoel Congo, no Rio de Janeiro…
Enfim, não há dúvidas que o povo brasileiro, ao longo de sua história, perdeu a capacidade de se rebelar contra a opressão, contra a escravidão, contra a dominação das elites. Bovinamente, caminha para o matadouro…
PS – minha filha respondeu minha indagação sobre o que meu neto achara do indígena brasileiro: “acho que a expectativa foi maior que a realidade.”