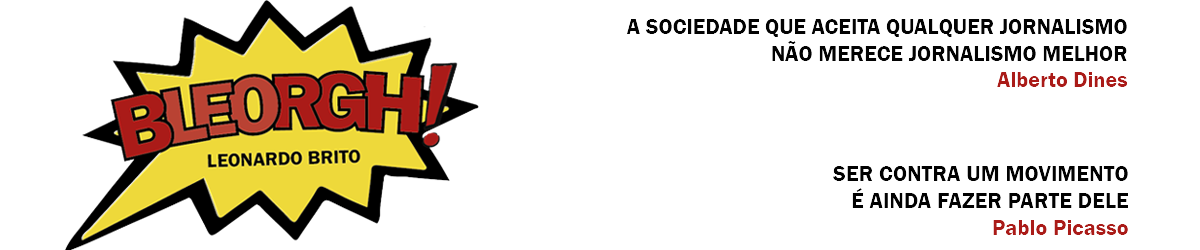Aproximando-me dos 70 anos, desde sempre e ainda agnóstico, a caraminholagem é inevitável: o que é a morte? Que morte… a física ou a do amor?, indagam alguns neurônios, ainda jovens e ativos. Qual a diferença?, responde, socraticamente, meu velho e esquecido eu poeta, que lia e ouvia Vinícius de Moraes como um deus único e que devia ser imitado até no gosto pelo uísque com gelo.
Meu eu racio nal, que prevaleceu por toda a minha vida, dá um basta na discussão: a dúvida vem de um fato concreto, já que alguém fundamental na minha vida, vive momento crucial de sua própria vida, a perspectiva da morte física, pelo anúncio de um câncer…
nal, que prevaleceu por toda a minha vida, dá um basta na discussão: a dúvida vem de um fato concreto, já que alguém fundamental na minha vida, vive momento crucial de sua própria vida, a perspectiva da morte física, pelo anúncio de um câncer…
Meu eu racional não tem muito o que dizer a quem vislumbra a morte física. Não s endo religioso, não acreditando que um deus todo poderoso possa acolher em seus braços quem nunca pecou ou, se o fez, arrependeu-se a tempo, só posso dizer que estou aqui, presente, fazendo o possível para que a morte, antes de vir, aconteça suave e tranquilamente, sem dor e sem imprecações contra Deus que, quem sabe?, pode existir e não gostar.
endo religioso, não acreditando que um deus todo poderoso possa acolher em seus braços quem nunca pecou ou, se o fez, arrependeu-se a tempo, só posso dizer que estou aqui, presente, fazendo o possível para que a morte, antes de vir, aconteça suave e tranquilamente, sem dor e sem imprecações contra Deus que, quem sabe?, pode existir e não gostar.
O Sócrates, que cito ali em cima, defendia, séculos atrás, numa época em que seus contemporâneos gregos acreditavam num monte de deuses habitand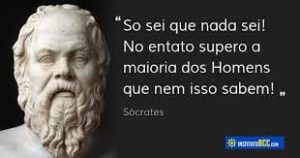 o o Olimpo, de onde interferiam na vida de todo mundo, que o ser humano era dotado de uma alma imortal, sendo, por isso, um ente espiritual que vive, por um tempo, encarnado em matéria. A morte, portanto, não seria nada mais, nada menos, que um retorno à sua origem, o ente espiritual.
o o Olimpo, de onde interferiam na vida de todo mundo, que o ser humano era dotado de uma alma imortal, sendo, por isso, um ente espiritual que vive, por um tempo, encarnado em matéria. A morte, portanto, não seria nada mais, nada menos, que um retorno à sua origem, o ente espiritual.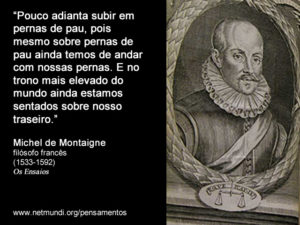
Pulando séculos, encontro outro filósofo (e jurista, político, escritor, cético e humanista), Montaigne, que, à época dos grandes descobrimentos, encarava a morte como algo bom e dizia que “meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade”, querendo dizer ele que aquilo que era “a mais horrível das coisas horríveis” para a maioria, na verdade era o “único porto contra os tormentos desta vida”, a receita mais “comum e imediata contra todos os males”.
Mais um pulo e me deparo com Sartre, outro francês como Montaigne, já dos meus tempos, por nós, jovens à época, reverenciado pelo existencialismo e por seu “casamento aberto” com Simone de Beauvoir, a musa do feminismo. Para ele, o homem é condicionalmente livre, não sendo nada quando nasce e retornando ao nada quando morre. Entre vida e morte, o homem é somente o que ele consegue ser ou fazer em sua existência, o que ele consegue fazer de si mesmo. Com isso, Sartre diz que a morte é transformar em nada (nadificar) todas as possibilidades de se ser, “nadificação essa que já não mais faz parte das possibilidades” do ser, vez que, morto, ele não é mais nada.

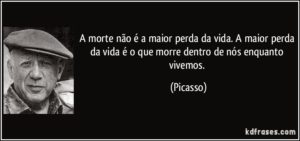

E eu, que não sou filósofo e me aproximo da morte, vendo a velhice bem ali, por cima dos ombros dos meus netos, que já se tornam jovens, e logo logo serão adultos, concordo com ele: a morte é o fim. Ponto. E ainda é melhor que a morte do amor…
Porque a morte do amo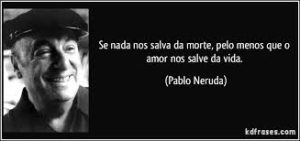 r não é o fim… até que haja, e pode haver sempre, um novo amor. Meu velho e esquecido eu poeta e meu sempre atento eu racional podem ficar horas
r não é o fim… até que haja, e pode haver sempre, um novo amor. Meu velho e esquecido eu poeta e meu sempre atento eu racional podem ficar horas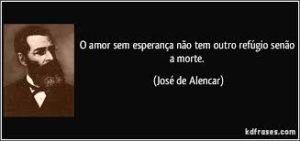 e horas deblaterando contra ou a favor das diferenças entre paixão e amor ou da importância ou não de se conviver com a rotina ou da validade ou não de uma separação, considerando-se, unicamente, os aspectos econômico-financeiros… Acima de qualquer consideração mais filosófica, o fundamental é que, conforme postei outro dia, não há amor, por mais antigo e profundo que seja, que resista à falta de respeito e/ou de confiança.
e horas deblaterando contra ou a favor das diferenças entre paixão e amor ou da importância ou não de se conviver com a rotina ou da validade ou não de uma separação, considerando-se, unicamente, os aspectos econômico-financeiros… Acima de qualquer consideração mais filosófica, o fundamental é que, conforme postei outro dia, não há amor, por mais antigo e profundo que seja, que resista à falta de respeito e/ou de confiança.
Vinícius, argumenta meu eu poeta, já declamava, entre um gole de uísque e outro, entre uma musa inspiradora e outra, com quem, geralmente, se casava, que “…De repente, não mais que de repente//Fez-se de triste o que se fez amante//E de sozinho  o que se fez contente.//Fe
o que se fez contente.//Fe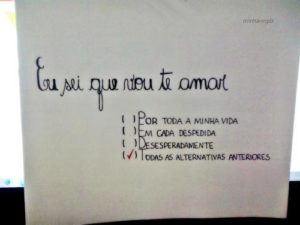 z-se do amigo próximo o distante//Fez-se da vida uma aventura errante//De repente, não mais que de repente.
z-se do amigo próximo o distante//Fez-se da vida uma aventura errante//De repente, não mais que de repente.
E é assim mesmo, num repente, entre uma noite mal dormida e um café da manhã apressado, que se pressente que alguma coisa está fora do lugar… A maneira enviesada de olhar, a secura da voz ao falar, o tchau apressado ao sair e a voz, ah! a voz incomodada ao atender o telefone, quando chamada uma única vez, mas parecendo que passou o dia inteiro, e a todo momento, atendendo aquele chamado, e só o mesmo chamado.
Racionalizando, digo que a agonia, então, podia ser rápida… mas, dificilmente, é! Nas coisas do amor, nunca há racionalidade. A morte está ali, visível, palp ável, não há porque refugar, amuar-se, trocar ofensas dificilmente perdoáveis… Bastaria botar as cartas na mesa e tomar as decisões práticas necessárias. Mas ninguém gosta de se sentir derrotado ou, pior, de perder algo (olha’í Vinicius de novo) que era uma chama, que podia ser eterna, mas
ável, não há porque refugar, amuar-se, trocar ofensas dificilmente perdoáveis… Bastaria botar as cartas na mesa e tomar as decisões práticas necessárias. Mas ninguém gosta de se sentir derrotado ou, pior, de perder algo (olha’í Vinicius de novo) que era uma chama, que podia ser eterna, mas não foi…
não foi…
E se a morte do amor acontece porque um novo amor – ou um velho amor desencontrado – apareceu na vida de um? Para este, há toda a esperança de um novo encontro com a felicidade ao seu alcance… Para o outro, o desespero do amor morto e da perspectiva da solidão à frente. E a vontade imensa de não permitir que o velho amor seja feliz às custas da sua infelicidade!
Aqui, meu eu racional fala mais forte: não há possibilidade de sobrevivência para um amor de um lado só. Não há como manter um relacionamento unilateral. Apesar dos tantos e tantos romances, filmes, novelas, histórias de amor não correspondido, que tornam-se dramas de eterna lembrança para muita gente, mal amados só sobrevivem, na vida real, se possuem algum traço masoquista em sua personalidade e gostam de se tornarem eternos coitadinhos.
Do mesmo modo, po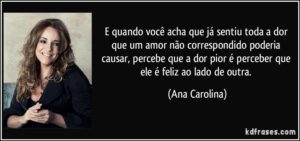 r mais que Francisco diga que “o perdão é vital para nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual”, nós, seres humanos comuns, muito mais próximos dos animais do que dos anjos, temos certeza que vital para nossa saúde emocional é desejar os piore
r mais que Francisco diga que “o perdão é vital para nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual”, nós, seres humanos comuns, muito mais próximos dos animais do que dos anjos, temos certeza que vital para nossa saúde emocional é desejar os piore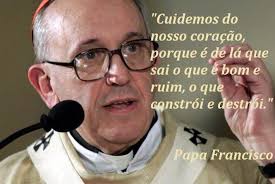 s males para quem nos desrespeita (e o apodrecimento no inferno para quem nos trai), e que nossa sobrevivência material, onde entra a dignidade, onde entra a honra, onde entra o orgulho, é muito mais importante que a espiritual.
s males para quem nos desrespeita (e o apodrecimento no inferno para quem nos trai), e que nossa sobrevivência material, onde entra a dignidade, onde entra a honra, onde entra o orgulho, é muito mais importante que a espiritual.
Assim, a morte do amor, por não ser o fim como a morte física, é pior que ela, pois não leva ao nada. A vida continua, amarga, desesperada, sem perspectivas, um poço de ódio a corroer os anos de vida que ainda restam para um… ou a esperança de uma nova vida embasada em um novo amor que, logo ali na frente, pode repetir o velho amor e morrer, também, para outro! Com outra vida que continua, amarga, desesperada, com possibilidades sombrias à frente, um poço de angústia a corroer os anos de vida que ainda restam!
Ou não!, como 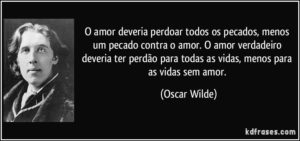 diria Caetano… Porque, como cantou Gonzaguinha, “Viver//E não ter a vergonha//De ser feliz//Cantar e cantar e cantar//A beleza de ser//Um eterno aprendiz//Ah meu Deus! Eu sei, eu sei//Que a vida devia ser//Bem melhor e será//Mas isso não impede//Que eu repita//É bonita, é bonita//E é bonita…//
diria Caetano… Porque, como cantou Gonzaguinha, “Viver//E não ter a vergonha//De ser feliz//Cantar e cantar e cantar//A beleza de ser//Um eterno aprendiz//Ah meu Deus! Eu sei, eu sei//Que a vida devia ser//Bem melhor e será//Mas isso não impede//Que eu repita//É bonita, é bonita//E é bonita…//